Problemas da literatura – No princípio era o verbo ...
No princípio era o verbo. Talvez. Mas como chumbei no propedêutico de exegese bíblica, não sei como começa a Bíblia. Graças às Selecções dos Readers Digest sei que a Bíblia deve provavelmente começar pelo Génesis, e como não sou propriamente estúpido, apesar de ser bastante convincente nesse papel, sei que os Génesis da Bíblia não têm o Phil Collins a tocar bateria ou o Peter Gabriel como vocalista do coro dos querubins-rockers.
Sei que a Bíblia é uma boa história e por isso deve naturalmente ter um bom começo.
É uma questão de lógica narrativa; ninguém perde uma história que começa por um homem a mordiscar uma maçã do pecado. Aliás até podia ser um mamão, uma papaia, ou de preferência, os mamilos dardejantes de uma Eva, que já dava para fazer crescer água na boca.
Aliás, sei que ao sétimo dia Deus criou o domingo, que é um dia bom para comer caracóis, ver um Benfica-Sporting na TV ou pensar nos problemas da literatura, caso não se tenha uma assinatura da Sport TV ou orégãos para pulverizar os caracóis renitentes.
E o problema da literatura que vos trago é precisamente o problema do começo da obra.
Trata-se daquele momento solene e quase tão místico como quando um profeta hindu corta as unhas dos pés no Ganges, em que o autor se debate com o infinito vazio da folha branca para escrevinhar a sua imortalidade; e uma vida benfazeja em direitos de autor e sessões de autógrafos em feiras do livro, com professoras de aramaico e decotes frondosos a insinuar encontros torridamente literários em qualquer pensão manhosa da Baixa ou em Spas requintados e libidinoso, no caso do autor ser consagrado, sofrer de artroses e preferir jacuzzis a fellatios.
Obviamente que um escritor traquejado no prefácio da 10º edição já sabe perfeitamente por onde começar a obra. Agora imaginem o terror do autor anónimo, que tem a narrativa estruturada em post-its espalhados pelo guarda-fatos, frigorífico e pelos recantos desocupados do seu cerebelo criativo, mas que não sabe bem por onde começar … a obrar.
O primeiro parágrafo é determinante para um autor desconhecido e irrelevante para um autor consagrado, mas mesmo esse já teve de dedicar uma semana inteira numa cabana à beira de um lago (ou num T2 em Moscavide) dois sacos de café, meia dúzia de garrafas de Bushmills e a discografia completa de Thelonius Monk, para escrever o primeiro parágrafo do seu primeiro livro.
Há aliás quem defenda que o problema central da literatura é o primeiro parágrafo e tudo o resto é uma questão de tarimba a virar frangos – com ou sem piri-piri?
Não nos aventuramos nessas questiúnculas de tabernáculo, mas podemos entender com facilidade a pertinácia do primeiro parágrafo no começo da escrita.
Trata-se da velha artimanha da sedução – um soslaio sugestivo, um decote prometedor, uma nudez de perna, enfim, um catrapiscar de olhos ao leitor que vagueia como cão sem dono por uma livraria pedante; bisbilhotando, bibliotecando livros, afagando-lhe as lombas, o grafismo de capa, a badana com venerações críticas e até a dedicatória ao gato Benevides: - “pela sua imensa dignidade”.
Quem não levaria para casa um livro com uma dedicatória ao gato Benevides?
Eu cá era incapaz, e ainda bem que por causa disso tenho os contos do Gin Tónico encostados às garrafas de grogue de Cabo Verde que contrabandeei da última vez que fui a banhos no Mindelo.
Para um vagabundo de livraria, o primeiro parágrafo de um livro tem o mesmo apelo que os piropos de comércio da carne que as putas senegalesas emitem aos turistas de Amesterdão que se encaminham para a montras do broche clínico e ariano do Red District.
Por falar em broches, é preciso recordar que o primeiro parágrafo é provavelmente a única coisa que as máquinas de sonda-literária das editoras vão ler quando o autor lhes envia o manuscrito policopiado em letra-padrão-Garamond e a espaços marcados.
Isto já para não falar dos proeminentes jurados do prémio literário Dr. Jacinto Capelo Rego, da Câmara Municipal de Poiares, que dificilmente passarão do título, sobretudo se este for indigesto para as favas à bordalesa ingeridas na almoçarada com o vereador, e como se sabe, geradoras de flatulência intelectual que qualifica qualquer literato médio dessa nossa Pacóvia.
Portanto, e respondendo à questão da menina quartanista de literatura pós-balcânica da terceira fila deste congresso literário patrocinado pelas Salsichas Nobre - Uma obra define-se pelo seu começo, assim como se conhece o artesanato pelo seu artesão.
Para posteriores averiguações recomendo o meu laureado ensaio: “E depois do prefácio? Talvez um amouse de bouche - um exaustivo estudo comparativo do início das obras literárias, de Homero e Dan Brown”.
Imagine então o meu amigo autor que tem o seu romance totalmente estruturado a betão, vigas e andaimes, e só lhe falta a campainha.
Por onde começar?
Tudo depende do seu objectivo, ambições e sobretudo da maternidade onde nasceu.
Imagine então que nasceu na Maternidade Alfredo da Costa e que a sua ambição literária é ser tema de capa do “Jornal de Letras”. Nesse caso, e independentemente do que tiver para dizer/escrever a seguir, deve começar por uma coisa no género - “Era uma vez o fim de tarde. Era um Setembro entre os Setembros da minha vida. Estava sentado na varanda, na cadeira de baloiço, a ler um livro de páginas amarelecidas pela última luz”.
Pode-lhe parecer o refrão de uma música do Vítor Espadinha, mas na verdade é uma “ouverture” de pontaria afinada para o poeta recalcitrante e o melancólico desesperado que cochicha sob a pele tisnada de qualquer português, mesmo que seja taxista à noite no Cais do Sodré ou estudante de Psicologia Social no Instituto Piaget.
Não vai vender que nem almofadinhas na bola, mas vai pelo menos conquistar a pungente alminha romântica que se enxertou em cada português a partir do momento em que percebeu que era um grande cornudo da vida, o que, como se percebe tem imenso potencial literário, dada probabilidade demográfica de se encontrar um exemplar em idênticas circunstâncias.
Qualquer leitor gosta de se identificar com o sofrimento literário, mesmo que este seja tão sofrível como José Luís Peixoto e o seu incandescente parágrafo de abertura de “Uma casa na escuridão”, o que num tempo de néon e luzes de tungasténeo só nos autoriza a pensar que alguém não pagou a conta da luz.
Como nos faltou a luz nos corredores desta casinha-portuguesa-choramingas, saltamos num ápice para a luz do alpendre do último parágrafo onde com umas velinhas titubeantes lemos: “Ela disse amo-te. Ela, o seu rosto puro, diante de mim, as chamas, o fogo, disse amo-te. Como palavras impossíveis e como as únicas palavras. Eu sorri tanto, fui feliz e, nesse momento, morri.”
Foi ele e eu, que morri de tédio. Revisitei a minha história funcionária e abençoei o dia em que terminei o Serviço Militar Obrigatório e confrontado com o dilema de me tornar escritor-certamente-pungente ou alcólico-determinantemente-valente, fiz a melhor opção. Mas, para quem queira paparico de “Jornal de Letras” e aclamação de velharias dementes do Grémio Literário esta receita serve perfeitamente como Mousse Alsa literária, e ao que consta dá para viver, que não é coisa de papo-seco no ofício da escrita.
Mas se as suas ambições literária almejarem a bonança das estantes FNAC do Jumbo e as adaptações da Twenty Century Fox (ou da TVI), então recomendamos um serial-killer style: “Museu do Louvre, Paris, 22:46h – Jacques Sauniére, o conceituado conservador, atravessou a cambalear o arco abobadado da Grande Galeria. Estendeu as mão para o quadro mais próximo, um Caravaggio. Agarrando a moldura de madeira dourada, puxou-a para si até arrancá-la da parede, e então, caiu de costas, enrodilhado debaixo da grande tela.” Digam lá que não morrem de curiosidade de saber o que se vai passar a seguir. De acordo com os mais destacados professores de Literatura Rapidinha de Harvard, este é um clássico começo da escola “Sem funfuns nem gaitinhas”. É como mandar um SMS à miúda que se conheceu na outra noite a convidá-la para ir para a cama antes de jantar e do Martini com azeitoninha para a trinca.
Reparem, incautos, nos entosoativos narrativos utilizado por esse grande Onan da escrita de supermercado – Dan Brown.
Começa por nos levar para o Museu do Louvre com cronómetro marcado, o que é bem melhor do que qualquer Casa na Escuridão a hora incerta. Depois, o artimanhoso, sugere que o personagem com nome de queijo provençal cambaleie sob o arco abobadado, o que nos levaria imediatamente a pensar numa pilhéria – o conceituado conservador tinha apanhado uma grande abobadada de anis.
Mas não, tromp l`oeil simples. O sacaninha do autor americano, mete logo um Caravaggio ao barulho, não sabemos se porque estava ali mais à mão de semear, se para nos impor respeitinho.
Imaginem que o conservador tinha caído para os lados de um Mantegna, qual seria o efeito literário? Provavelmente nenhum, porque o único Mantegna que um frequentador de supermercados conhece é um actor americano chamado Joe ou a Mantegna dos Açores. Mas Caravaggio não, é um nome sonante, com parecenças fónicas com uma expressão de calão profusamente utilizada no trânsito em Lisboa. Caravaggio é um autor de quem toda a gente já ouviu falar, por causa do nome que fica a zumbir no ouvidos como o black&decker do vizinho de cima em matina de sábado bricoláctico.
Para prender o leitor inexperiente no Renascimento, nada melhor para lhe beliscar o testículo da curiosidade ufana. Assim no parágrafo inicial mais eficaz da literatura-detergente contemporânea, os elementos essenciais da alquimia, as palavrinhas abracadabra são – Louvre/ abobadado/Caravaggio e enrodilhado (debaixo da grande tela). Independentemente da história que tiver para contar, se utilizar estas palavrinhas-mágicas, provavelmente estará para o ano a comer caranguejos em Miami com o Tom Hanks a combinar os diálogos da adaptação cinematográfica da sua obra.
Não somos exactamente tolos e obviamente um parágrafo inicial não basta. Depois precisa de levar a sua história a um acelerador de partículas e provocar no seu leitor um efeito de vertigem/devorativa, que o obrigue a tomar uns comprimidos para o enjoo, para aguentar o enredo “tsunami” que o mantém acordado até ao camião do lixo voltar a passar na sua rua no dia seguinte, quando esfrega as suas olheiras e dá o suspiro final em “Avassalado por uma súbita reverência. Langdon caiu de joelhos. Pareceu-lhe, por um instante, ouvir uma voz de mulher … a sabedoria das idades … murmurar-lhe das profundezas da terra”.
Se o leitor-maratonista não estivesse tão cansado, podia facilmente pensar que José Luís Peixoto deu uma mãozinha ao Dan Brown no parágrafo final do Código da Vinci. Mas não, se o estimado leitor não pode com uma gata com o rabo depois de desbaratar 536 páginas para descobrir que Jesus Cristo podia ter tido direito ao abono de família, imagine então a fadiga do autor.
Isto são receitas para a temporalidade da escrita, que provavelmente acaba em saldos num alfarrabista de rua ou em ofertas em atacado da benemérita editora para os reclusos do Estabelecimento Prisional de Caxias. Se o seu objectivo é alcançar a imortalidade literária, mesmo que isso signifique uma dieta baseada em croquetes rançosos e férias na camioneta para a Costa da Caparica, então deve marcar hora com os Clássicos, e nesse caso, tente qualquer coisa como “Num lugar da Mancha, de cujo nome não me quero recordar, vivia, não há muito tempo, um desses fidalgos que usam lança em hastilheira, adarga antiga, cavalo magro e galgo corredor”. Se não quiser ficar maluco de tanto ler romances de cavalaria, pode sempre optar por um “Muitos anos depois , diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo”, e depois é só deixar cervejas suficientes no frigorífico para “Cem anos de solidão”.
Afinal o problema da literatura é apenas um dos muitos problemas domésticos – resolvem-se, esperando que passem ou ligando para o canalizador.


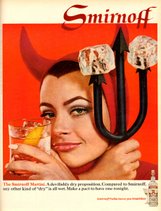



Sem comentários:
Enviar um comentário